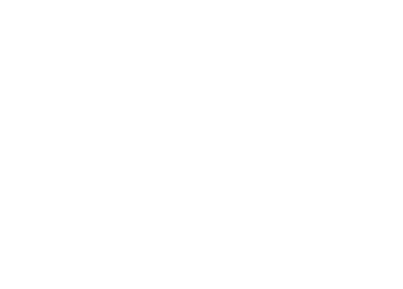Por: Ricardo Meireles
Pero Vaz de Caminha, a 1 de maio de 1500, escreveu de Porto Seguro ao rei D. Manuel I que encontrara gente que “não lavra nem cria” e se alimentava de “um inhame que por todo o lado dá”, sementes e frutos “que a terra e as árvores de si deitam”, andando, ainda assim, “tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos…”. O leitor perguntará: que tem este relato longínquo da Carta de Achamento do Brasil a ver com Portugal parar de arder? Tudo. Porque no fundo fala de como olhamos a terra: como um organismo vivo que nos alimenta e protege ou como um armazém à espera de ser esvaziado. Quando a comida nasce de sistemas diversos e sombreados, nasce também frescura no chão, água que circula, vida que abafa a secura.
Os recém-chegados a terras de Vera Cruz olharam e acharam que aquele povo “vivia do que a mata dava”, como se a abundância fosse acaso e não obra. Não entenderam que a paisagem que tinham diante dos olhos era resultado de uma gestão ecológica fina, praticada com intuição e conhecimento acumulados ao longo de séculos: árvores úteis encostadas a árvores de sombra, clareiras abertas com sabedoria, consórcios que davam comida, remédio, fibra e abrigo. Em vez de aprenderem, foram apagando essa prática e eliminando quem a praticava. Fizemos o mesmo noutros continentes: substituímos práticas de gestão regenerativa por culturas anuais e extrativismo, até a linguagem do fogo e a memória das florestas escuras dos contos de infância nos ensinaram a temer o bosque. A abundância passou a soar a risco, quando sempre foi abrigo.
Hoje, em Portugal
Hoje, em Portugal, carregamos uma história longa de transformação da paisagem. Há milénios que usamos o fogo para abrir clareiras e criar pastos, simplificar mosaicos ecológicos que são mais importantes quando complexos. Primeiro devagar, mas depois em crescendo com a expansão agrícola e florestal. Não é só clima; é cultura e a economia da ganância a escreverem-se sobre o território, geração após geração.

A floresta que vemos hoje, jovem, resinosa, altamente inflamável, assente em eucalipto e pinheiro-bravo, não é uma fatalidade: é apenas um degrau na escada evolutiva de um ecossistema de acumulação de carbono que pode seguir para espécies e arranjos de muito maior abundância, capazes de nos alimentar a nós e aos outros animais que voltem a ocupar estes lugares. Imaginem uma sociedade que cresce ao ritmo da sucessão natural, plantando comida sem roubar energia a outros sítios, reequilibrando a distribuição das pessoas pelo território e usando a tecnologia existente para resolver problemas reais, não para criar novos. A questão não é saber se isto é uma utopia; a questão é quando percebemos que não temos outra escolha. Tecnologias não resolvem problemas sistémicos se forem contra a complexificação dos ecossistemas; só começam a resolvê-los quando se alinham com ela. Todo o pedaço de terra carrega o impulso de se tornar abundância. Não o travemos mais, embarquemos nesse movimento. Esta mudança de rumo é, também, chave para reduzir a severidade dos incêndios em Portugal.
E se, em vez de insistirmos nessa simplificação, recuperarmos hábitos de gestão ancestrais, aqueles que deixam o ecossistema falar e trabalhar, em vez de o calarmos com a nossa pressa? Não se trata de voltar à recoleção nem de enfiar toda a gente numa floresta densa como quem renega o que aprendemos. Trata-se de fazer uma síntese: pegar na melhor ciência e na melhor tradição, ouvir a floresta e decidir com ela. Nem saudade sem técnica, nem técnica sem humildade. O meio vivo está pronto para nos devolver o lugar; falta-nos dar-lhe protagonismo.
O que é a agrofloresta de sucessão
É a arte de copiar a dinâmica da natureza para produzir alimento e matérias primas sem empobrecer o sítio. Em vez de plantar espécies como quem preenche uma grelha, montamos relações: plantas que cooperam, raízes que não se atropelam, copas que oferecem luz. Trabalhamos com o tempo: pioneiras que abrem caminho às que chegam depois; ciclos curtos que amparam ciclos longos; juventude que prepara maturidade.
A imagem é simples e serve de mapa: um campo de futebol abandonado vinte anos. Da relva para as ervas mais rústicas, depois arbustos, depois árvores jovens, por fim um bosque. A partir daí, novos ciclos, cada vez mais intensos e abundantes, com centenas de anos de evolução. A agrofloresta é um atalho planeado desse filme: começamos num terreno simples, com densidade e diversidade, para que a sucessão avance mais depressa, e com ela vem a sombra certa, a humidade certa, o microclima que abranda as febres do verão. Nada disto se confunde com tratar a floresta como depósito para celulose ou como reserva a esvaziar. O ecossistema precisa reter carbono: o carbono vivo das árvores em crescimento e o carbono em repouso da madeira e da manta morta que sempre ficaram no solo, mas que agora são retirados em camiões para alimentar apetites da transformação e da energia. É esse carbono que segura água, que alimenta microrganismos, que dá corpo à esponja invisível debaixo dos nossos pés. Retirá-lo é desfazer a casa que nos mantém frescos; é empobrecer o lugar ao mesmo tempo que contamos outra vez a velha história do extrair e levar para longe.
Estratos, luz partilhada e ar que arrefece
A natureza organiza-se por andares. Árvores do estrato emergente exigem luz o dia todo; no estrato alto já toleram alguma sombra; espécies de estrato médio colhem a luz que passa entre as folhas dos estratos superiores; espécies de estrato baixo e plantas rasteiras selam o solo e fazem fotossíntese na sombra; trepadeiras atuam como equilibradoras do crescimento de espécies que estejam a avançar depressa demais e a prejudicar o conjunto.

Ao copiar o padrão, multiplicamos a fotossíntese e acendemos um ar condicionado discreto no território. A sombra abranda o calor, as raízes abrem caminhos para a água entrar e se acumular, podem voltar riachos e ribeiros desaparecidos, a diversidade preenche nichos que de outro modo ficariam secos. E quando se poda (e a poda é parte do desenho, não um castigo) simula-se, com intenção, o que o acaso faria a golpes: a queda de um ramo, uma ventania, um raio, um clarão de luz que acorda rebentos. A poda frequente é um gesto de confiança no poder de recomeçar: acelera a ciclagem de nutrientes, chama o rebrote e reorganiza a orquestra. Não estamos a “limpar”. Estamos a coreografar o caos fértil que leva um sistema do simples para o complexo. A isto chamamos sintropia: a via da vida que se adensa e se afina, que aprende consigo própria, que transforma cada perturbação numa oportunidade de subir um degrau. Quando guiamos essa via num terreno com propósito e alimento, estamos a praticar Agricultura Sintrópica.
O solo nunca está nu
A terra, quando fica a descoberto, sofre. Um chão exposto é uma ferida aberta: sangra água, perde vida, fica febril. A natureza sabe isso e corre a tapá-lo com tudo o que tem à mão. Primeiro ervas, depois arbustos, mais tarde sombra de copas. Na agrofloresta de sucessão não lutamos contra esse impulso: trabalhamos com ele e aproveitamos essa força da evolução e apanhamos boleia para plantar a nossa comida. As podas regulares chama rebentos, renovam o vigor, redistribuem a luz, despejam sobre o chão uma manta que respira por nós. Essa manta morta, que de morta nada tem, protege, humedece, alimenta. É carbono em repouso a fazer serviço público: a água entra e fica, os microrganismos acordam, as raízes descem, o território arrefece.

É também a linguagem: quando trocamos a palavra da pressa (a que reduz tudo a recurso) pela palavra do cuidado, começamos a ver que o chão responde. Não pedimos licença à vida para ser vida; devolvemos-lhe as condições e ela faz o resto. E há um efeito colateral feliz: libertamo-nos de inputs externos, menos adubos e tratamentos comprados, menos materiais e energia importados para “empurrar” o ecossistema. É a própria biomassa a fechar o ciclo: da folha à manta, da manta ao húmus, do húmus ao vigor. Cultivamos com a energia do próprio sistema, e não com a energia que nos chega de longe, subsidiada pelo uso de petróleo barato.

A noite em que o fogo passou
Já testemunhei muitos incêndios com a câmara na mão, enquanto fotojornalista, mas em pleno Verão nunca vi um vendaval como o daquela madrugada em que o fogo me bateu à porta de casa. Foi o vento que se impôs primeiro: árvores a partir não pelo fogo, mas pela força do ar. O lume correu, sim, e fez estragos numa antiga cultura de aromáticas, numa estufa de apoio e na floresta em volta. Mas as agroflorestas ficaram. Havia humidade no chão, sombra nas copas, manta a cobrir a pele da terra. A vegetação densa e não resinosa em volta da casa funcionou como escudo para as faúlhas empurradas pelo vento. O desenho da sucessão, as podas a cadenciar crescimento, os consórcios densos que evitam vazios de vida, tudo isso fez diferença. Ao amanhecer, depois da angústia, ficou um mapa de esperança: a mancha verde intacta a contrastar com terra em cinza. Um mês depois plantámos o primeiro módulo de agrofloresta na área afetada; na primavera seguinte, reforçámos com o segundo. Hoje, mais de cinquenta espécies de ciclos e estratos diferentes crescem onde o lume passou. Não houve milagre: houve sucessão guiada, solo sempre coberto, gestão da luz. Com estrutura de solo e tempo, a natureza volta a germinar e aqui está uma pista prática para mitigar a severidade dos incêndios em Portugal.
E se voltássemos a fazer a síntese?
A tese foi a floresta que nos alimentava com sombra e fruto; a antítese, a pressa da uniformização que nos ensinou a produzir muito e depressa, para muita gente que não produz nada do que come. Falta a síntese: juntar o melhor do que sabemos com o melhor do que desaprendemos, dar protagonismo ao ecossistema e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade de o desenhar para que nos dê de comer. Não é regresso romântico à recoleção nem capitulação às tecnologias; é um pacto. A sucessão natural indica o caminho; nós só apontamos a luz, afinamos o compasso e aproveitamos a dinâmica. Em Portugal, esta síntese tem rosto possível: quintais densos a devolver frescura às aldeias; escolas a plantar módulos agroflorestais que ensinam ciência com as mãos na terra; freguesias a gerir taludes e espaços públicos como pequenas bacias de infiltração; agricultores a trocar linhas nuas por consórcios que criam solo e levantam sombra; autarquias a medir arrefecimento e retenção de água como se mede qualquer obra pública. E, sobretudo, uma decisão clara: a floresta não é armazém de celulose nem depósito para alimentar centrais de biomassa; é infraestrutura viva que guarda o carbono em pé e deitado, que chama a água, que baixa a febre do território e que ainda nos dá alimento.

Copiar a natureza para Portugal deixar de arder
Vi o fogo passar e vi a diferença que faz uma sucessão guiada. Não me interessa prometer milagres; interessa-me prometer trabalho com sentido. Se formos capazes de trocar a lógica da extração pela da multiplicação de energia, o país arrefece um grau de cada vez, uma copa de cada vez, poucos centímetros de solo de cada vez. A floresta volta a ser cozinha: folhas a cozinhar luz, raízes a cozinhar água, a manta a cozinhar húmus. E nós, no meio, a colher alimentos, a incorporar animais para acelerar a fertilidade, a viver com menos medo do vento da noite quente e com mais confiança no dia que nasce fresco. Copiar a natureza não é abdicar de nós; é, finalmente, estar à altura dela. Se o fizermos, Portugal não deixa apenas de arder: volta a florescer.

Ricardo Meireles
Ricardo Meireles é fotojornalista e agricultor, com mais de uma década de experiência dedicada a práticas agrícolas sustentáveis. Ao longo do seu percurso tem procurado constantemente modelos de produção de alimentos mais responsáveis, explorando soluções regenerativas.
É fundador da EstacaoAgroflorestal.org, projeto de comunicação e formação que promove novas soluções de produção alimentar, com foco especial na agricultura familiar e integrada nos ecossistemas. Começou com o cultivo de plantas aromáticas e medicinais, mas cedo se apaixonou pela agrofloresta de sucessão. Em 2018 participou no Curso de Agricultura Sintrópica com Ernst Götsch, experiência que levou à co-fundação do projeto Somos Agrofloresta, com Walter Sandes.
Escreve no Substack.com, espaço onde partilha reflexões, experiências e crónicas sobre agricultura sustentável, ecologia e o papel regenerador da natureza.